lembrando do que não vivi, mas vivo
 |
| por Caroline Stampone |
Lá em casa ninguém fala dos tempos do ditador. Pol Pot é nome terminantemente proibido. A mãe, que perdeu duas irmãs para a fome, um irmão para o exército mirim do ditador, o pai assassinado e a mãe para um pouco disso tudo, repete:
_ já houve tristeza que baste. Agora é hora de seguir em frente, deixar o passado quieto com os mortos.
Eu respeito muito a mãe, mas não acho que ela esteja sempre certa. Os nossos mortos, por exemplo, não estão quietos. Eles gritam-me aos ouvidos, noite e dia, que a gente não pode esquecer o que aconteceu.
É turista que quer saber como chegar ao memorial às vítimas do genocídio. É a cara da mãe marcada pelas cicatrizes de tanta atrocidade. É o medo que ainda acompanha o andar de tanta gente, gente que ainda não acredita direito que os tempos de seguir uma única ideia começaram a acabar. Gente que acha que ter um punhado de arroz todos os dias é sinônimo de fartura. Gente que só sabe existir sentindo saudades dos que não puderam resistir ao sangrento regime de Pol Pot.
Aqui no bairro mesmo, não tem uma pessoa que não tenha perdido gente da família durante o Khmer Rouge. Pai, mãe, irmão, marido, amor, filho. Cada um carrega a dor de uma saudade que é absurdamente grande. A saudade que se sente de uma vítima, atravessada por uma espécie de culpa maluca, a culpa de quem sobreviveu.
Outra noite tive um sonho com o meu avô, o pai da mãe. No sonho ele estava sendo assassinado a enxadadas, mais uma vez. Aprendi mais tarde que os soldados de Pol Pot fizeram muito disso, matar gente a enxadadas, pauladas, com facão, batendo a cabeça em árvores. Qualquer ferramenta servia. É que a ordem era economizar bala. Mataram até bebês desse jeito. No meu sonho o vô só dizia duas frases. "Sinto muito" e "Cuida da sua mãe".
Acordei assustado, com aquela sensação de que tudo aquilo que eu tinha vivido de olhos fechados era verdade. O que no fim das contas tinha sido verdade mesmo. O Khmer Rouge realmente assassinou o meu avô e outros milhões de cambojanos. Mas, as execuções, e a política que levou tanta gente a morrer de fome, cansaço e desilusão não tinha acontecido no meu sonho, mas anos antes de eu ter nascido.
Foi por isso que acordei com aquela sensação de falta de cabimento. Não tem cabimento o fantasma do vô pedir para eu cuidar da mãe. Tem? Primeiro eu achei que não, que não tinha. Mas, daí eu lavei a cara, comi o meu café da manhã, e fui para o restaurante ajudar a mãe a atender os turistas.
Uma moça pálida pediu omelete com cogumelos, salada de frutas e café e ficou contente quando descobriu que só ia pagar três dólares por isso. Um cara alto pediu sopa tradicional com pimenta extra, eu avisei que era forte, mas ele disse que também era. No fim das contas saíu irritado, cuspindo fogo e xingando a minha mãe.
Corri atrás dele e fui tirar satisfação. Onde já se viu insultar a minha mãe daquele jeito. Eu tinha avisado sobre a pimenta e a minha mãe já tinha aguentado muito mais do que uma pessoa podia aguentar. No fim das contas não teve briga. O turista desculpou-se. Sem jeito, disse que não sabia que eu entendia a língua dele. Disse ainda que ele não estava realmente insultando a minha mãe, na terra dele aquilo era só jeito de falar.
Achei muito esquisito aquele jeito de falar. Mas logo deixei as esquisitices da outra terra de lado. Estava outra vez ocupado com o pedido do fantasma do meu avô. Eu tinha que cuidar da mãe. Por que?
Resolvi contar o sonho à minha mãe. Dessa vez ela ouviu tudo calada. Não pediu que eu ficasse quieto nem uma vez. Não repetiu que a gente devia deixar os nossos mortos quietos. No fim disse apenas:
_ Sabe, meu filho, não é fácil sobreviver.
Aquela simples frase da mãe me fez entender muita coisa. Tinha um pedaço dela que preferia não ter sobrevivido ao Khmer Vermelho. Eu entendo. Ela não diz, mas eu sei que sofreu todo tipo de violência e dor. Fome, estupro, testemunha de assassinato, desesperança aguda. Ela sobreviveu a família, aos amigos. Ela ainda nem era adolescente direito, quando uma guerra caiu-lhe encima, roubando-lhe tudo, até ela mesma. Sobrou um resto.
Eu fui parido por um resto de gente, que foi se refazendo aos bocados, e que provavelmente nunca vai ser inteira de novo. De um jeito injusto eu fui a razão da mãe não ter desistido. Foi por mim que ela continuou viva. E quando ela me pariu deixou misturado ao meu sangue e as minhas circunstâncias os resquícios das dores que ela não pode esquecer. Uma dor que eu e todos da minha geração precisamos conhecer, para evitar que tragédias assim se repitam. Para encontrar um chão comum onde os sobreviventes e as suas crias dessabidas possam co-existir, apesar da distância que sempre haverá entre eles.
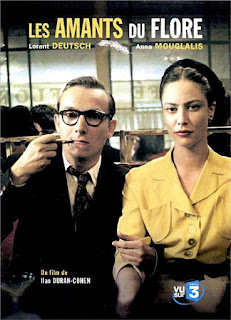


Comments
Post a Comment